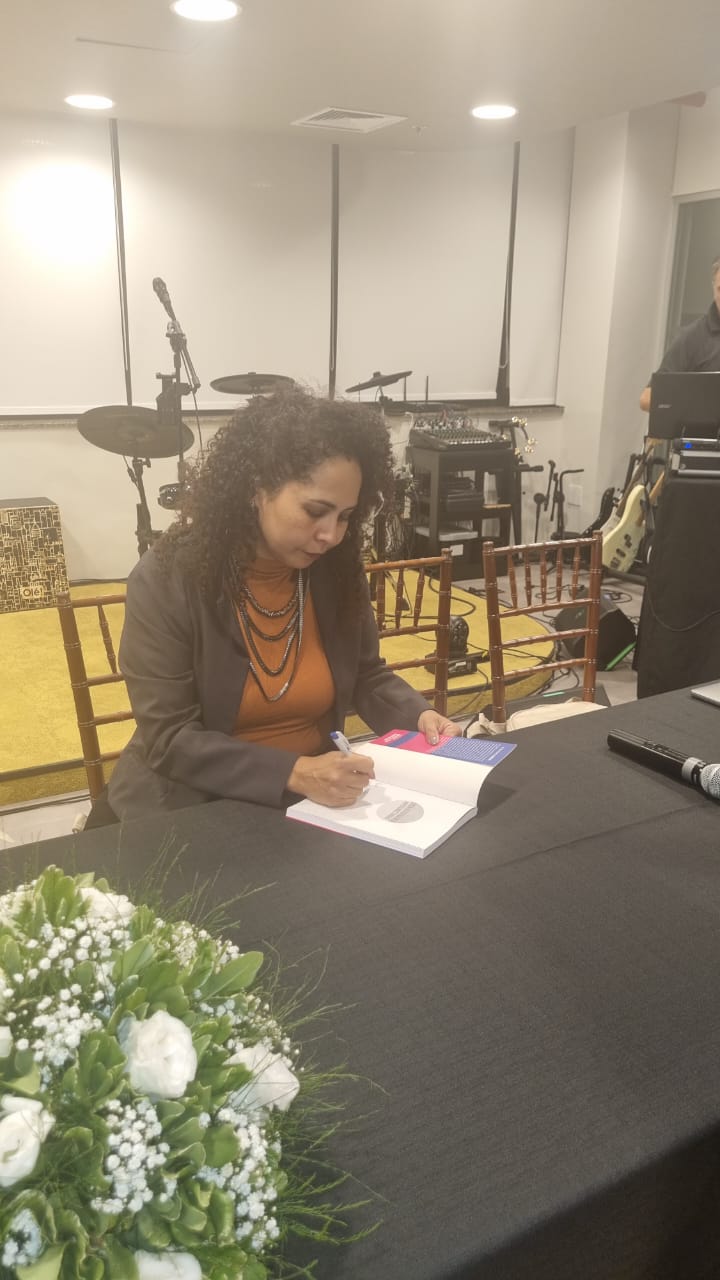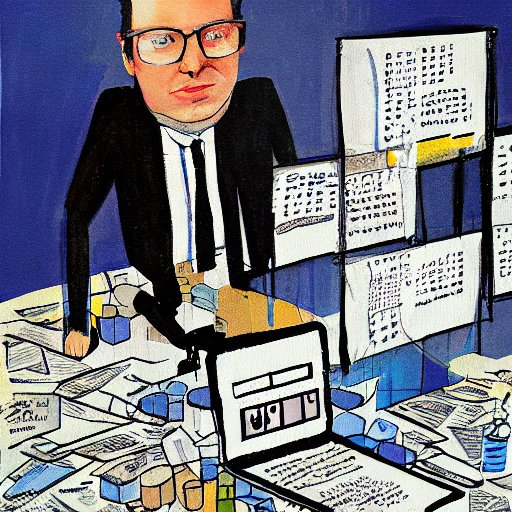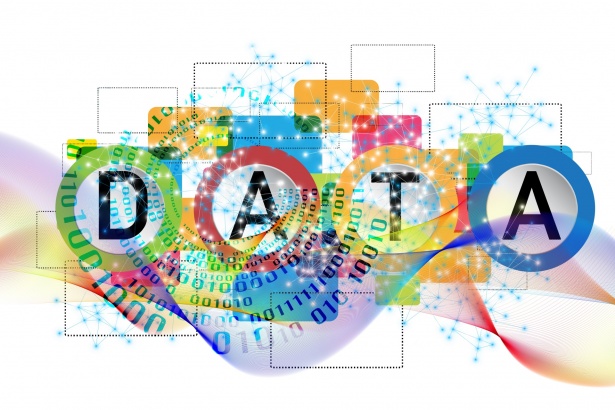Por André Augusto Salvador Bezerra, CoLab/USP
Artigo originalmente publicado na edição 277 da Revista Justiça e Cidadania sob o título Acesso à Justiça requer novas tecnologias (sem novas desigualdades).
Nas últimas décadas, a necessidade da elevação do acesso à justiça à condição de direito autônomo foi tema colocado na ordem do dia nos debates públicos. O instituto da inafastabilidade da jurisdição, definido no artigo 5º, XXXV, da vigente Constituição, é produto de tais discussões.
Sob uma análise superficial, mencionado instituto teria assegurado universalmente a mera igualdade formal para o acesso à justiça. Haveria, então, a garantia no sentido de que, a qualquer pessoa, estaria igualitariamente aberta a porta do Judiciário, como se não existissem situações de desvantagens sobre certos grupos ou indivíduos no plano fático.
Não é assim, contudo, que a literatura acerca do acesso à justiça tem tratado o tema. A busca por uma possível igualdade material já se fazia presente no final século passado, na obra de autores como Cappelletti e Garth, que apontavam a importância da assistência jurídica às pessoas mais pobres (I). Nos últimos anos, ao recorte da classe social, se somaram outros recortes baseados em situações de desvantagem decorrentes de gênero e raça, tal como o faz Rebecca L. Sandefur (II).
Há, contudo, quem centre suas análises, não em situações de desigualdades em si consideradas, mas na observância judicial de certos princípios que também podem auxiliar na democratização do acesso à justiça. É o caso de Elena e Mercado, para quem o direito em questão requer um Judiciário aberto à prestação de contas, à participação social, à transparência e ao uso de novas tecnologias (III).
No atual processo de ampliação da informatização dos tribunais, a abertura a inovações tecnológicas, especificamente, vem recebendo notável atenção da academia e dos operadores do Direito. Em tais termos, tem-se debatido em que medida uma atividade judicial mais informatizada influi na busca pela igualdade material do acesso à justiça. O fenômeno reduz ou amplia as desvantagens de certas pessoas ou grupos?
Neste artigo, apontam-se possíveis virtudes e problemas, para o ingresso equânime ao Poder Judiciário, que podem advir a partir das inovações tecnológicas. Não há, aqui, a intenção de fornecer respostas profundas ou definitivas a uma questão tão complexa. O que se quer é mencionar certos aspectos relevantes do problema, a fim de que possam fornecer alguma luz nas discussões realizadas.
Acesso à justiça por novas tecnologias
Inicia-se o texto lembrando que a relação entre o uso de novas tecnologias pelo Poder Judiciário e acesso à justiça foi claramente manifestada sob o advento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a partir do ano de 2020.
O fechamento das portas dos prédios que sediam os fóruns de todo o país, decorrentes das medidas de isolamento tidas como necessárias para o maior controle da transmissão viral, não representou o fechamento das portas do Poder Judiciário. O processo eletrônico, regulado pela Lei 11.419 de 19 de dezembro de 2006, somado à adesão dos tribunais a aplicativos para realização de audiências e reuniões remotas, possibilitaram que 25,8 milhões de processos fossem ajuizados e que 27,9 milhões de casos fossem baixados no mesmo ano, conforme revelado pelo Relatório Justiça em Números de 2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (IV).
Reduzidos os níveis de contágio, as tecnologias utilizadas durante o período de isolamento não foram abandonadas. O retorno ao trabalho prevalentemente presencial não tem impedido que os próprios advogados das partes requeiram a realização de audiências e de despachos virtuais, de modo a reduzir custos com deslocamento e, portanto, a beneficiar as pessoas ou grupos dotados de menor poder aquisitivo.
Para além da melhoria da situação para os mais pobres, há também a redução dos custos para o Estado, possibilitando-o a realização do serviço judicial mais eficiente (art. 37, caput da Constituição). Nesse sentido, foi simbólica a situação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos meses iniciais da pandemia do novo coronavírus e da consequente ampliação do trabalho remoto: houve redução de aproximadamente 815 mil reais em relação ao mesmo período do ano anterior (2019), geradas pelo menor consumo de água, papel, combustível e energia elétrica (V).
Mas não é apenas pelo trabalho remoto que as novas tecnologias podem facilitar a efetivação do princípio do acesso à justiça. Há outras potencialidades.
Veja-se o caso da utilização da Inteligência Artificial (IA). A ampliação da informatização do Judiciário fomenta a coleta de dados decisórios por sistemas algorítmicos, via aplicação da chamada machine learning. Esta permite que as máquinas aprendam com os dados coletados (no caso, decisões judiciais), indicando aos juízes possibilidades de deliberações.
É intuitivo o potencial de tal função na agilização dos processos. Em um país como o Brasil, em que há mais de 70 milhões de relações processuais em tramitação (VI), não se trata de circunstância irrelevante, na medida em que assegura reparações judiciais de direitos mais próximas da eficácia pretendida por quem sofre uma violação.
Problemas com novas tecnologias
Tudo o que se mencionou, porém, não torna desnecessário que o debate alcance alguns dos potenciais efeitos nocivos no uso de novas tecnologias. Novamente, o advento da IA é exemplar.
Como se viu, a indicação de possibilidades decisórias aos juízes, proporcionada pela machine learning, tem por base a coleta de dados pretéritos. Ora, se no passado, o sistema judicial foi levado a proferir decisões que, ainda que involuntariamente, legitimaram discriminações ocorrentes no plano fático, como, então, fazer a IA auxiliar na superação do problema?
Lembra-se da questão penitenciária. A segunda década deste século XXI encerrou-se com o Brasil ocupando a posição de terceira maior população carcerária do mundo, tendo mais de 66% dos presos formados por pessoas negras (pretas e pardas), situação que, em período de 15 anos mensurados, ampliou-se em 14%, contrapondo-se à redução de 19% da população aprisionada branca (VII).
Trata-se, como se vê, de sintoma do racismo estrutural que persiste no país (VIII). Essa é a situação presente e passada das penitenciárias brasileiras. Se o machine learning indica possibilidades decisórias a partir de dados pretéritos, significa dizer que a população negra continuará em desvantagem na justiça criminal?
Há ainda de se ter em mente outros problemas que não se limitam ao aspecto penitenciário, como a questão dos estereótipos, entendidos como falsas generalizações manifestadas nos mais diversos discursos em sociedade, sobre grupos minoritários como indígenas, negros e mulheres, os quais legitimam a manutenção de sua marginalização (IX). Se tais estereótipos se fazem presentes em decisões judiciais (X), os dados colhidos pelos sistemas algorítmicos e que indicarão possibilidades de atos decisórios futuros, inevitavelmente, farão repetir as mesmas generalizações?
O potencial uso discriminatório da IA é aqui primordialmente citado pela atualidade do debate (XI). Mas há outras possibilidades lesivas no uso de novas tecnologias, decorrentes de múltiplos fatores cuja complexidade exige análise detida, como, por exemplo, as dificuldades de acesso à internet ainda enfrentadas por cerca de 30 milhões de pessoas no Brasil (XII) e que, portanto, não podem fazer uso de aplicativos utilizados pelos tribunais para audiências e despachos remotos, em completa desvantagem perante outros litigantes dotados de tais possibilidades.
Observações finais
Como toda ferramenta empregada a serviço de um bem maior, é preciso que não se deixe de questionar: para que as novas tecnologias serão empregadas?
No Brasil, onde a realidade da vida de desigualdades tanto difere da realidade das normas constitucionais que prometem o acesso igualitário à justiça, o questionamento acima colocado ganha importância primordial. Será que as inovações consistirão em nova forma de privilegiar aqueles que, por razões de classe, gênero e/ou raça, já ostentam vantagens a seu favor no campo processual? Ou o seu uso poderá reduzir essas desigualdades?
O desenvolvimento tecnológico sempre traz, consigo, céticos e entusiastas. Tal situação se repete quando se discutem novas tecnologias aplicadas ao sistema judicial. Mas qualquer que seja a posição que se adote, é imprescindível que nunca se perca de vista esses questionamentos, pois, afinal de contas, a redução das desigualdades é da essência do acesso à justiça.
I – CAPPELLETTI, Mauro; BRYANT, Garth. Acesso à justiça. Porto. Alegre, Fabris, 1988.
II – Access to Civil Justice and Race, Class, and Gender Inequality (Annual Review of Sociology Book 34). Kindle Edition.
III – ELENA, Sandra. MERCADO, Gabriel. Justicia aberta: uma aproximación teórica. In: ELENA, Sandra (coord). Justicia aberta: aportes para uma agenda em construcción. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones SAIJ, 2018, p. 17-41.
IV – Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/09/relatorio-justica-em-numeros2021-12.pdf
V – Dados relatados em matéria disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-tem-reducao-de-gastos-com-trabalho-remoto.aspx
VI – Segundo Relatório Justiça em Números de 2022 do CNJ: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/09/justica-em-numeros-2022-1.pdf
VII – FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo, 2020. Disponível em: https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/.
VIII – ALMEIDA, Silvio. Racismo estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Jandaíra, 2020.
IX – MOREIRA, Adilson. Racismo recreativo. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora Jandaíra, 2020, p. 59.
X – Em pesquisa acadêmica, este autor observou a presença de estereótipos incidentes contra povos indígenas em decisões judiciais: BEZERRA, André Augusto Salvador. Povos indígenas e direitos humanos: direito à multiplicidade ontológica na resistência Tupinambá. São Paulo: Editora Giostri, 2019.
XI – “O risco de enviesamento cognitivo no uso de algoritmos é de conhecimento geral e perpassa toda a história da implementação das tecnologias a de inteligência artificial […]” (SERBETO DE FREITAS, Tiago Alves. O Uso da inteligência artificial em processos judiciais no Brasil; limites éticos. Dissertação de Mestrado, PUC/SP, 2022, p. 140).
XII – A respeito: https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2022/03/21/mais-de-33-milhoes-de-brasileiros-nao-tem-acesso-a-internet-diz-pesquisa.ghtml